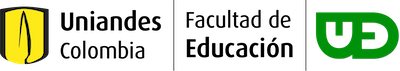Explorando práticas etnomatemáticas em um ambiente escolar do semiárido brasileiro: o caso dos cisterneiros
Tipo de documento
Lista de autores
de-Oliveira, Fernando, do-Socorro, Maria y de-Assis, Francisco
Resumen
O presente artigo é resultante de parte de uma pesquisa realizada no Curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ensino da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte/Campus Pau dos Ferros, envolvendo o saber/fazer de um grupo de cisterneiros atuantes na região do Semiárido brasileiro. Tal pesquisa teve como objetivo analisar o saber-fazer do referido grupo na perspectiva da Etnomatemática e como esses podem contribuir para ações facilitadoras, consistentes e efetivas para o ensino da Matemática escolar. Nessa esteira, o presente trabalho propõe-se retratar a ação pedagógica – desenvolvida à luz da Etnomatemática – vivenciada com alunos de uma escola do ensino fundamental do Semiárido brasileiro, a partir dos saberes-fazeres do referido grupo sociocultural. Para atingir tal fim, valemos da pesquisa qualitativa, de cunho etnográfico, para investigar as práticas etnomatemáticas dos cisterneiros e da pesquisa-ação, para o desenvolvimento da ação pedagógica no referido ambiente escolar. Esse retrato torna-se relevante à medida que a Etnomatemática reúne um potencial educativo-metodológico capaz de promover formas alternativas que possibilitam um melhor ensino de Matemática e, consequentemente, vislumbrar melhores níveis de aprendizagem.
Fecha
2019
Tipo de fecha
Estado publicación
Términos clave
Enfoque
Nivel educativo
Idioma
Revisado por pares
Formato del archivo
Volumen
5
Número
2
Rango páginas (artículo)
126-150
ISSN
24476447
Referencias
André, M. E.D.A.(2008).Etnografia da prática escolar. 14. ed. Campinas: Papirus. Bandeira, F. A.(2016).Pedagogia Etnomatemática: reflexões e ações em matemática do ensino fundamental. Natal: EDUF. Bispo, R.S.(2010).Capital Social e Desenvolvimento Rural: Acesso, Uso e Gestão de Águas no Território Rurais do Sertão do São Francisco. 2010. 160 f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) –Centro de Humanas Letras e Artes. Universidade Federal do Rio Grande do Norte: Natal. Brasil.(2000).Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Matemática/ Secretaria de Educação Fundamental. Brasília: MEC/SEF. D’Ambrosio, U. (1986). Da realidade à ação: Reflexão sobre educação (e) matemática. São Paulo (SP): Summus. D’Ambrosio, B.S.(1989).Como ensinar matemática hoje? Temas e Debates. SBEM. Ano II. n.2 Brasília, p. 15-19. Disponível em: http://educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/2010/artigos_teses/MATEMATICA/Artigo_ Beatriz.pdf Acesso em: 01 jan. 2010. D’Ambrosio, U. (1990). Etnomatemática: arte ou técnica de explicar e conhecer. São Paulo: Ática. D’Ambrosio, U. (1996). Educação matemática: da teoria à prática. Campinas, SP: Papirus(Coleção Perspectivas em Educação Matemática). D’Ambrosio, U. (1999). A História da Matemática: Questões Historiográficas e Políticas e Reflexos na Educação Matemática. In:Bicudo, M. A. V. (Org.). Pesquisa em Educação Matemática: Concepções & Perspectivas. Rio Claro, SP: Ed. UNESP. D’Ambrosio, U. (2002). Ethnomathematics an overview. In:Congresso Internacional de Etnomatemática, 2.Ouro Preto, MG. Anais... Ouro Preto, MG:Universidade de Ouro Preto,1 CD-ROM. D’Ambrosio, U. (2004). Algumas notas históricas sobre a emergência e a organização da pesquisa em educação matemática, nos Estados Unidos e no Brasil. In: Miguel, A.et al. A educação matemática: breve histórico, ações implementadas e questões sobre sua disciplinarização. Revista Brasileira de Educação. n. 27, p. 70-93, set.-dez., 2004. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n27/n27a05.pdf. Acesso em: 31 mar. 2013. D’Ambrosio, U. (2005). Sociedade, cultura, matemática e seu ensino. Sociedade, cultura, matemática e seu ensino. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 31, n. 1, p. 99-120, jan./abr. 2005. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ep/v31n1/a08v31n1.pdf. Acesso em: 4 out. de 2017. D’Ambrosio, U. (2009).Etnomatemática: elo entre as tradições e a modernidade. 3 ed.Belo Horizonte: Autêntica. Esteban, M. P. S.(2010).Pesquisa qualitativa em educação: fundamentos e tradições. Porto Alegre: AMGH. Ferreira, E. S.(1997).Etnomatemática: Uma Proposta Metodológica. Rio de Janeiro: MEM/USU. Ferreira, E. S.(2004).Etnomatemática na sala de aula. Natal: UFRN. Freire, P.(1992).Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra. Gerdes, P.(2010). Da etnomatemática a arte-design e matrizes cíclicas.Belo Horizonte: Autêntica. Gerdes, P.(2012).Etnomatemática –cultura, matemática, educação.Colectânea de Textos 1979-1991. Instituto Superior de Tecnologias e Gestão (ISTEG). Belo Horizonte, Maputo. Disponível em: http://www.etnomatematica.org/BOOKS_Gerdes/etnomatem%C3%A1tica___cultura__matem%C3%A1tica__educa%C3%A7%C3%A3o___colect%C3%A2nea_de_textos_1979_1991___ebook_.pdf . Acesso em: 29 maio 2018. Gerdes, P.(2014).A Ciência Matemática. Instituto Superior de Tecnologias e Gestão (ISTEG). Belo Horizonte, Maputo. Disponível em: http://www.etnomatematica.org/BOOKS_Gerdes/a_ci%C3%AAncia_matem%C3%A1tica__ebook_.pdf. Acesso em 27 maio 2018. Knijnik, G.(1996).Exclusão e resistência: educação matemática e legitimidade cultural. Porto Alegre: Artmed. Mendes, I. A.(2004).Educação (Etno)Matemática: Pesquisas e experiências. Natal: Editora Flecha do Tempo. Mendonça, S. R. P.(2005).Saberes e práticas etnomatemáticas na carcinicultura: o caso da vila Rego Moleiro-RN. 2005. 138 f. Dissertação (Mestrado) -Curso de Matemática, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal. Organização das Nações Unidas para a Educação a Ciência e aCultura.(2016).Os desafios do ensino de matemática na educação básica. Brasília: UNESCO; São Carlos: EdUFSCar. Rosa, M.; Orey, D. C.(2006).Abordagens atuais do programa etnomatemática: delineando-se um caminho para a ação pedagógica. Bolema, v. 19, n. 26, p. 1-26. Rosa, M.; Orey, D. C.(2014).Fragmentos históricos do programa etnomatemática: como tudo começou? In:Anais do 6º EncontroLuso-Brasileiro de História da Matemática. Natal: (SBHMat), 2014. p. 535-558. Disponível em: https://www.academia.edu/7322588/Anais_Actas_do_6o_Encontro_Luso-Brasileiro_de_Hist%C3%B3ria_da_Matem%C3%A1tica. Acesso em: 29 maio 2018. Santos, H. S. (2010). A importância da utilização da história da matemática na metodologia de ensino: estudo de caso em uma Escola Municipal da Bahia. 2010. 64 f. Monografia apresentada ao Curso de Matemática da Universidade Estadual da Bahia para obtenção do Grau em Licenciatura em Matemática. Scandiuzzi, P.P.(2000).Educação Indígena x Educação Escolar Indígena: uma relação etnocida em uma pesquisa etnomatemática. 2000. Tese (Doutorado) –Programa de Pós-Graduação emEducação, UNESP, Marília (SP). Soistak, A. V. (2010). Uma experiência com a modelagem matemática no Ensino Médio Profissionalizante. In:Brandt, F. B.; Burak, D.; Klüber, T.E.(Org.). Modelagem Matemática: uma perspectiva para a Educação Básica. Ponta Grossa: Editora UEPG. Souto, R.A.; Nogueira, C.M.I.(2016).Leitura e Interpretação de Textos nas Aulas de Matemática. In:Paraná. Secretaria de Estado da Educação. Superintendência de Educação. Os Desafios da Escola Pública Paranaense na Perspectiva do Professor PDE, 2013. Curitiba: SEED/PR., 2016. v.1. (Cadernos PDE). Disponível em: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2013/2013_uem_mat_artigo_reinaldo_alves_souto.pdf. Acesso em: 02 jul. 2018. Vergani, T. (2007).Educação etnomatemática: o que é?Natal, RN: Flecha do Tempo.