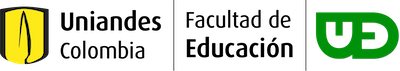DragonBox e a produção do conhecimento algébrico possibilitada por um jogo digital
Tipo de documento
Autores
Lista de autores
Natal, Cristiano y Monteiro, Rosa
Resumen
Este texto apresenta uma pesquisa que objetiva expor uma metodologia para a introdução dos conteúdos algébricos para alunos dos anos finais do Ensino Fundamental. Por meio do game DragonBox Algebra 12+ trabalharemos com um grupo de professores da rede pública de ensino do Estado de São Paulo, Brasil, analisando e discutindo possibilidades de tratar as propriedades algébricas fundamentais presentes nesse game. Autores como Merleau- Ponty (2006); Toneis (2015); Garris; Ahlers & Driskell (2002); Prensky (2007), nos permitirão compreender de que modo nosso corpo próprio e nossa ação no game colabora para a produção de conhecimentos algébricos através da resolução de problemas e para a sistematização do conteúdo em sala de aula. Com base na fenomenologia merleaupontyana e no Digital Game-Based Learning (DGBL) faremos uma análise da experiência vivida com o jogo indicando como e quais elementos matemáticos e lógicos emergem na ação de jogar, a partir da expressão dos sujeitos que jogam.
Fecha
2017
Tipo de fecha
Estado publicación
Términos clave
Contenido | Medios audiovisuales | Motivación | Otro (álgebra) | Otro (recursos didácticos)
Enfoque
Nivel educativo
Idioma
Revisado por pares
Formato del archivo
Título libro actas
Lista de editores (actas)
FESPM, Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas
Editorial (actas)
Lugar (actas)
Rango páginas (actas)
292-300
ISBN (actas)
Referencias
Aarseth, E. (1997). Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature. Baltimore: Johns Hopkins University Press. Aarseth. E. (1999). Aphoria and Epiphany in Doom and the Speaking Clock. Cyberspace Textuality: Computer Technology and Literary Theory. Bloomington: Indiana Press, pp. 31-41. Fonseca Filho, C. (2007). História da Computação: O Caminho do Pensamento e da Tecnologia. EDIPUCRS. Gadamer, H.G. (1999). Verdade e Método: Traços Fundamentais de uma Hermenêutica Filosófica. Tradução de Flávio Paulo Meurer. Petrópolis: Vozes. Garris, R.; Ahlers, R.; Driskell, J.E. (2002). Games, Motivation, and Learning: A Research and Practice Model. Simulation & Gaming, 33 (4), pp. 441-467. Gee, J. P. (2008). Learning and Games. The Ecology of Games: Connecting Youth, Games, and Learning, 3, pp. 21-40. Heick, T. (2012, 09, 12). Teach Thought: We grow Teachers. A Brief History of Video Games in Education. Recuperado de http://www.teachthought.com/uncategorized/abrief- history-of-video-games-in-education/. Huizinga, J. (1990). Homo Ludens: O Jogo como Elemento da Cultura. São Paulo: Perspectiva. Juul, J. (2002). The Open and the Closed: Games of Emergence and Games of Progression. In: CGDC Conf, Tampere: Tampere University Press. Juul, J. (2013). The Art of Failure: An Essay on the Pain of Playing Video Games. Mit Press. Merleau-Ponty, M. (2006). Fenomenologia da percepção. Tradução de Carlos Alberto Ribeiro de Moura. São Paulo: Martins Fontes. Ponte, J. P. (2004). As equações nos manuais escolares. Revista Brasileira de História da Matemática, 4(8), pp.149-170. Prensky, M. (2007). Digital Game-Based Learning. St. Paul, MN: Paragon house. Ricoeur, P. (1983). A Metáfora Viva. Porto, Portugal: Rés-Editora. Tonéis, C. N. (2010). A Lógica da Descoberta nos Jogos Digitais. Proceedings of SBGames. Tonéis, C. N. (2015). A Experiência Matemática no Universo dos Jogos Digitais: O processo do jogar e o raciocínio lógico e matemático. Tese de doutoramento não-publicada, Pós-Graduação em Educação Matemática, Universidade Anhanguera de São Paulo – UNIAN, São Paulo, Brasil. Winnicott, D. W. (1975). O Brincar e a Realidade. Trad. José Octávio de Aguiar Abreu e Vanete Nobre. Rio de Janeiro: Imago Editora Ltda.
Proyectos
Cantidad de páginas
9